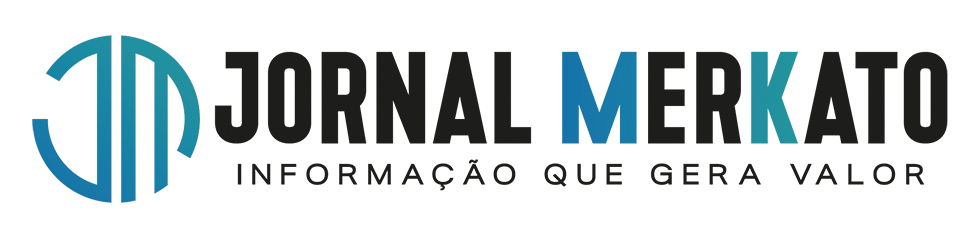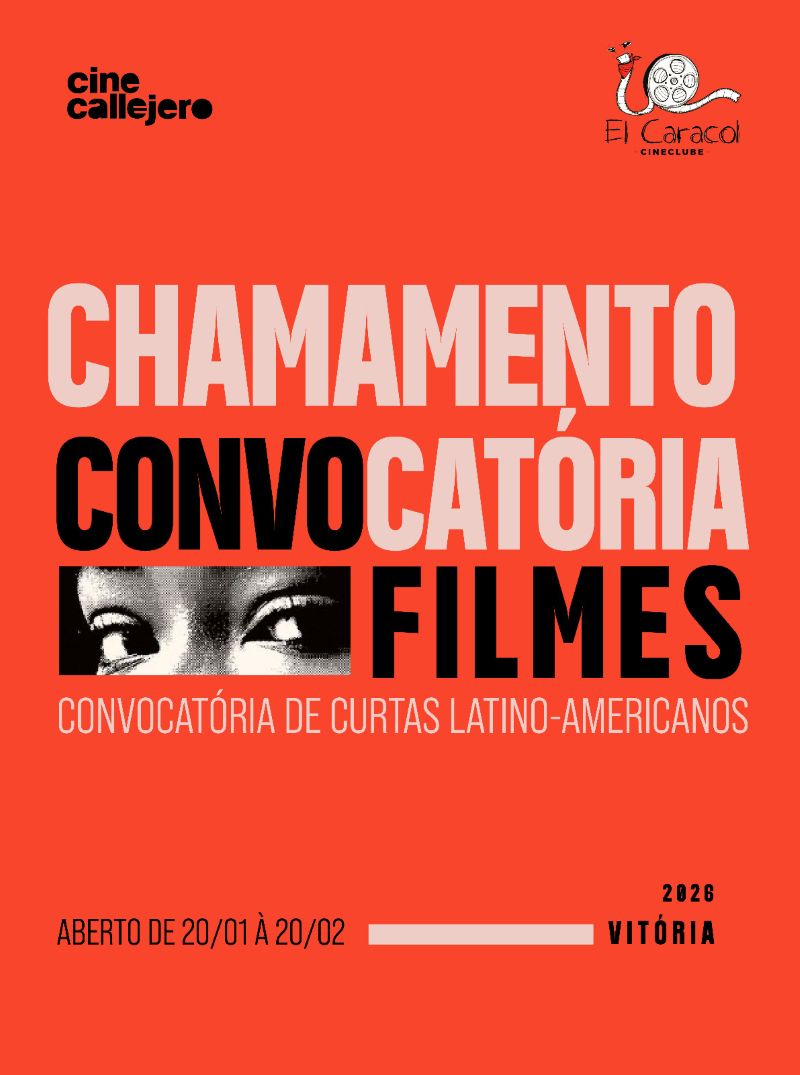(Imagem: Gemini – IA)
Coluna Letrados
Por: Giovandre Silvatece – Roteirista
Olá, leitor(a) da coluna Letrados! Em artigos anteriores procurei discorrer sobre fatos históricos que, pontualmente, contribuíram para o surgimento e propagação do Cinema, que neste ano completa 130 anos de existência. Chegamos ao cinema clássico, estilo de produção cinematográfica que se propagou por um longo período, desde a década de 1910 até meados da década de 1960, indicando que o cinema clássico começou a se desenvolver durante a era de ouro do cinema mudo, quando encontramos filmes dirigidos por Charlie Chaplin, Buster Keaton, D.W. Griffith e Alice Guy Blaché, além da presença na tela de Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino, Harold Lloyd e dos próprios Chaplin e Keaton.
Mesmo com o advento do cinema sonoro (também conhecido como cinema falado), os princípios que definiram o chamado cinema clássico persistiram, como o foco nas ações e desejos do protagonista; a estrutura em três atos, com início (preparação), meio (confronto) e fim (resolução); e a causalidade, em que toda ação deriva de uma ação anterior e que, por sua vez, influenciará nas ações subsequentes, tendo como objetivo um final satisfatório.
Contudo, não resta dúvida que a introdução do som de forma sincronizada com a imagem representou uma revolução da indústria cinematográfica, dando lugar a narrativas complexas e uma maior imersão do público com a história contada.
Resultados insatisfatórios
Ao contrário do fato de os primeiros experimentos objetivando criar imagens supostamente em movimento possuírem uma razoável semelhança aos filmes exibidos na primeira sessão de cinema no Grand Café de Paris, em 1895, a introdução do som nas produções cinematográficas esteve repleta de tentativas cujos resultados comumente desagradavam às grandes produtoras cinematográficas.
O maior desafio estava na sincronização entre imagem e som, e embora tenha ocorrida uma série de invenções que procuravam obter essa sincronia, a grande maioria dos projetos não conseguiu apresentar alguma inovação tecnológica significa nesse sentido, como no caso do cinetofone, aparelho inventado em 1894 por William Dickson, que trabalhava para a empresa de Thomas Edison, cujo projeto, em face da imensa dificuldade de sincronização entre som e imagem, foi arquivado, sendo, posteriormente, restabelecido, até ser abandonado por completo em 1915.
Rumo à sincronia
A invenção que obteve algum sucesso em termos de sincronicidade entre imagem e som foi o Vitaphone, que nada mais era que um projetor de filme conectado a um toca-discos que se iniciavam simultaneamente, possibilitando a sincronia entre a película e o disco de vinil, no qual estavam gravados os sons correspondentes ao filme. Apesar da boa qualidade do som, a limitação do tempo de gravação no disco, exigindo vários discos de vinil para a execução de um longa-metragem, e o custoso e exaustivo trabalho na edição dos filmes configuravam-se como um entrave no uso desse sistema.
O Vitaphone durou pouco tempo (1926 a 1931), porém o seu sistema de sincronização foi utilizado no filme “O Cantor de Jazz” (The Jazz Singer, 1927), considerado o primeiro longa-metragem a apresentar, em algumas cenas, o som do canto e da fala com sincronia labial, como também no filme “Luzes de Nova York” (Lights of New York, 1928), sendo este o primeiro longa-metragem totalmente falado.
Apesar do uso do Vitaphone ter sido um divisor de águas entre o cinema mudo e sonoro, a sua curta duração deveu-se às próprias limitações do sistema, como as já mencionadas neste artigo, bem como pela utilização de gravação do áudio na própria película do filme através de outros sistemas que surgiram na época, como o Phonofilm, Tri-Ergon, RCA Photophone e o Moviestone da Fox.
A gravação do áudio na própria película passou a ser o padrão utilizado pela indústria cinematográfica na reprodução dos filmes sonoros, pelo menos até a década de 1990, quando surgiram os primeiros filmes com o sistema de som digital.
Breve coexistência
De certo que os primeiros filmes do cinema sonoro obtiveram um imenso sucesso perante o público, mas nem tanto quanto à crítica especializada da época, tendo recebido críticas, até mesmo, de cineastas de peso, como Charlie Chaplin, que defendia a importância da linguagem visual do cinema mudo, enquanto Alfred Hitchcock, que apesar de ter dirigido o filme “Blackmail” (1929), primeiro sucesso do cinema sonoro europeu, chegou a declarar que o cinema mudo era a forma mais genuína do cinema.
Em meio à proliferação dos filmes sonoros, inclusive no continente europeu, ainda assim alguns filmes mudos obtiveram aclamação de público e crítica superior à grande maioria dos filmes falados, como o filme mudo alemão “A Caixa de Pandora” (Die Büchse der Pandora, 1929), acentuadamente aclamado pela crítica, e “Luzes da Cidade” (City Lights, 1931), estrelado, escrito e dirigido por Charlie Chaplin.
Quanto aos filmes sonoros, em termos de quantidade produzida, estes passaram a prevalecer sobre os filmes mudos já no decorrer de 1930, sendo que os primeiros a receberem aprovação quase que unânime da crítica foram “O Anjo Azul” (Der Blaue Engel, 1930) e “Nada de Novo no Front” (All Quiet on the Western Front, 1930).
E assim, durante um curto período, foram produzidos filmes sonoros e mudos, até que em 1936 foi lançado o último filme mudo de sucesso de Hollywood, o clássico “Tempos Modernos” (Modern Times, 1936), que apesar deste possuir trilha sonora, efeitos sonoros, algumas falas e um canto final (a primeira vez que se ouve a voz de Chaplin num filme), pois fim aos últimos resquícios do cinema mudo.
*O texto é de livre pensamento do colunista*